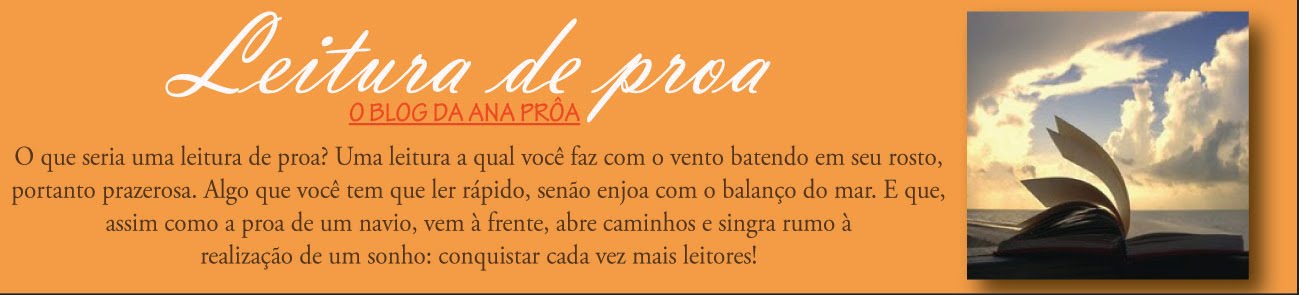Estavam todos reunidos em volta de uma grande mesa naquele sábado à noite. Amigos de final de adolescência, início de fase adulta, todos agora beirando os 40 – ou com esta marca já ultrapassada. O motivo do reencontro era a inauguração do restaurante do Márcio, que decidiu fazer um open-doors apenas para convidados. Conversa vai, conversa bem... Choppinho vai, caipirinha de abacaxi vem... Meia-noite e meia o evento acaba. O grupo de amigos – formado em sua maioria por casais – está na porta do restaurante conversando sem parar, contando piadas, dando gargalhadas, sem querer dizer boa-noite. Beto, um dos poucos solteiros, lança:
– Gente, deixa eu ir porque ainda vou pra Lapa encontrar uma mulherzinha.
Foi a deixa para Ana, casada com Rômulo, mãe de duas filhas que estavam dormindo na casa de uma amiguinha:
– Lapa??? Tô dentro! – A liberdade era tanta, que ela até esqueceu de consultar o marido. – Gente, vambora todo mundo pra Lapa! Não vou na Lapa há anos e, na minha época, não era como agora. Meu sobrinho tá sempre lá e diz que tá bombando.
Olhos de espanto da maioria. Mulher encarando marido, marido encarando mulher. Até que Amaral, um dos maiores bebuns dessa galera, não titubeia.
– É isso aí! Vamos tomar a saideira na Lapa!
A mulher dele, Adriana, topa na hora e, por incrível que pareça, se torna a mais animada do grupo, superando até mesmo a empolgação inicial da Ana. É o famoso efeito caipirinha...
– Beto, a gente te dá uma carona – convida o Amaral.
Mas, quando todos chegam perto do carro novinho dele, surge um problema: o mecanismo que destrava o alarme emperra. Se tentarem abrir a porta, o alarme vai disparar e acabar com a paz daquela rua pacata de Botafogo. Os amigos ficam à beira do carro falando alto e rindo da situação, enquanto Amaral e Rômulo tentam consertar o alarme, até que a janela de um dos prédios se abre e de lá sai a cara amassada de uma mulher:
– Vocês estão pensando o quê? Quero dormir!!! Vão fazer bagunça em outro canto.
A turma – se achando adolescente – ri ainda mais e o jeito é todo mundo se apertar no carro velho da Ana e do Rômulo e seguir para Laranjeiras, pegar a chave reserva do alarme. A essa altura, Beto, indignado porque a mulherzinha já estava ligando para o celular dele o tempo todo, entra no primeiro ônibus rumo à Lapa. Sob protestos, claro.
O carro era velho, mas o som era bom. Tocava Barão Vermelho e todo mundo cantava alto: “Mais uma dose, é claro que eu tô a fim...”
Chegaram em Laranjeiras, pegaram a chave reserva do alarme. Rumo a Botafogo, Mila, a mulher do dono do restaurante (que só iria para a Lapa mais tarde, depois de baixar as portas do charmoso estabelecimento), começou a brochar.
– Ai, gente, amanhã o Márcio tem que acordar supercedo pra levar o João pra catequese. E o Pedro levanta às seis, não deixando ninguém dormir mais. E o Gui acaba acordando também... – começou a ladainha, narrando sua rotina com a escadinha de três pequenos filhos.
– Ih, Mila, deixa de ser chata. Uma noite só! A gente nunca mais caiu na night juntos! Aproveita que sua mãe tá tomando conta dos meninos... – disparou Ana.
– É isso mesmo! Pior somos eu e o Amaral, que ainda vamos ter que pegar a Maria Eduarda com a minha mãe antes de voltarmos pra casa – completou Adriana.
– Hahaha! Pior somos eu e o Rômulo, que, depois de tomar todas, ainda vamos dirigir até Jacarepaguá. Só de pensar já me dá preguiça – foi a vez de Ana se lamentar.
Um silêncio mortal se fez no carro. A animação começou a afrouxar...
– Gente, desisto... Vocês me deixam em casa? – Mila foi a primeira a abortar a ‘missão Lapa’.
Ana e Rômulo sucumbiram também:
– Pô, podes crer... É o maior chão até Jacarepaguá e já tá tarde pra caramba...
Adriana ficou revoltada:
– Não acredito, gente! Nós temos um sábado livre, sem crianças, não nos víamos há um tempão e agora vocês vão arregar? Vocês são um bando de velhos! O quê que custa tomar a saideira na Lapa e...
O celular dela toca, interrompendo seu discurso inflamado. O tom de voz muda, tornando-se quase melódico.
– Oi, mãe... É que o carro deu problema. Mas já estamos indo praí, tá?
Quando desliga, abaixa a cabeça e diz meio sem-graça:
– A Maria Eduarda acordou chorando... Amaral, vamos ter que voltar agora...
– Xiii... A Lapa foi pro brejo... – lamenta o maridão.
E assim os velhinhos quarentões, pais de família, rabinho entre as pernas, tomam o rumo de suas casas.
Lapa, fica pra próxima!
– Gente, deixa eu ir porque ainda vou pra Lapa encontrar uma mulherzinha.
Foi a deixa para Ana, casada com Rômulo, mãe de duas filhas que estavam dormindo na casa de uma amiguinha:
– Lapa??? Tô dentro! – A liberdade era tanta, que ela até esqueceu de consultar o marido. – Gente, vambora todo mundo pra Lapa! Não vou na Lapa há anos e, na minha época, não era como agora. Meu sobrinho tá sempre lá e diz que tá bombando.
Olhos de espanto da maioria. Mulher encarando marido, marido encarando mulher. Até que Amaral, um dos maiores bebuns dessa galera, não titubeia.
– É isso aí! Vamos tomar a saideira na Lapa!
A mulher dele, Adriana, topa na hora e, por incrível que pareça, se torna a mais animada do grupo, superando até mesmo a empolgação inicial da Ana. É o famoso efeito caipirinha...
– Beto, a gente te dá uma carona – convida o Amaral.
Mas, quando todos chegam perto do carro novinho dele, surge um problema: o mecanismo que destrava o alarme emperra. Se tentarem abrir a porta, o alarme vai disparar e acabar com a paz daquela rua pacata de Botafogo. Os amigos ficam à beira do carro falando alto e rindo da situação, enquanto Amaral e Rômulo tentam consertar o alarme, até que a janela de um dos prédios se abre e de lá sai a cara amassada de uma mulher:
– Vocês estão pensando o quê? Quero dormir!!! Vão fazer bagunça em outro canto.
A turma – se achando adolescente – ri ainda mais e o jeito é todo mundo se apertar no carro velho da Ana e do Rômulo e seguir para Laranjeiras, pegar a chave reserva do alarme. A essa altura, Beto, indignado porque a mulherzinha já estava ligando para o celular dele o tempo todo, entra no primeiro ônibus rumo à Lapa. Sob protestos, claro.
O carro era velho, mas o som era bom. Tocava Barão Vermelho e todo mundo cantava alto: “Mais uma dose, é claro que eu tô a fim...”
Chegaram em Laranjeiras, pegaram a chave reserva do alarme. Rumo a Botafogo, Mila, a mulher do dono do restaurante (que só iria para a Lapa mais tarde, depois de baixar as portas do charmoso estabelecimento), começou a brochar.
– Ai, gente, amanhã o Márcio tem que acordar supercedo pra levar o João pra catequese. E o Pedro levanta às seis, não deixando ninguém dormir mais. E o Gui acaba acordando também... – começou a ladainha, narrando sua rotina com a escadinha de três pequenos filhos.
– Ih, Mila, deixa de ser chata. Uma noite só! A gente nunca mais caiu na night juntos! Aproveita que sua mãe tá tomando conta dos meninos... – disparou Ana.
– É isso mesmo! Pior somos eu e o Amaral, que ainda vamos ter que pegar a Maria Eduarda com a minha mãe antes de voltarmos pra casa – completou Adriana.
– Hahaha! Pior somos eu e o Rômulo, que, depois de tomar todas, ainda vamos dirigir até Jacarepaguá. Só de pensar já me dá preguiça – foi a vez de Ana se lamentar.
Um silêncio mortal se fez no carro. A animação começou a afrouxar...
– Gente, desisto... Vocês me deixam em casa? – Mila foi a primeira a abortar a ‘missão Lapa’.
Ana e Rômulo sucumbiram também:
– Pô, podes crer... É o maior chão até Jacarepaguá e já tá tarde pra caramba...
Adriana ficou revoltada:
– Não acredito, gente! Nós temos um sábado livre, sem crianças, não nos víamos há um tempão e agora vocês vão arregar? Vocês são um bando de velhos! O quê que custa tomar a saideira na Lapa e...
O celular dela toca, interrompendo seu discurso inflamado. O tom de voz muda, tornando-se quase melódico.
– Oi, mãe... É que o carro deu problema. Mas já estamos indo praí, tá?
Quando desliga, abaixa a cabeça e diz meio sem-graça:
– A Maria Eduarda acordou chorando... Amaral, vamos ter que voltar agora...
– Xiii... A Lapa foi pro brejo... – lamenta o maridão.
E assim os velhinhos quarentões, pais de família, rabinho entre as pernas, tomam o rumo de suas casas.
Lapa, fica pra próxima!